João Fellet - @joaofellet

Na últimas semanas, com a crise provocada pelo movimento grevista de caminhoneiros em todo o país, voltaram a surgir nas redes sociais e em faixas espalhadas nas estradas pedidos por uma certa "intervenção militarconstitucional", que daria a membros das Forças Armadas o poder para governar o país. Mas, apesar do uso do termo "constitucional", tal medida não tem nenhum fundamento jurídico. Na realidade, demandas do tipo são baseadas em interpretações equivocadas da Constituição, segundo juristas.
De acordo com os especialistas, diferentemente do que argumentam militantes polítcos que defendem a intervenção, a Constituição não prevê qualquer cenário em que militares possam assumir o poder, ainda que com missão e prazo delimitados.
A hipótese de uma intervenção também é rechaçada pelos comandantes das Forças Armadas, que citam os riscos de um retrocesso institucional no país.
"Qualquer intervenção em que os militares assumam o poder equivaleria a uma ruptura institucional e a um golpe de Estado", diz Daniela Teixeira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal.
'Limpeza ética'
Em grupos de apoiadores da greve no WhatsApp e no Facebook, além de outros movimentos, são comuns os pedidos por uma intervenção militar temporária, que promova uma "limpeza ética" no governo e conduza o país até a próxima eleição.
Segundo os difusores da ideia, esse tipo de intervenção seria diferente de um golpe ou da imposição de uma ditadura militar.
"Em 1964 as leis eram outras, eram outros tempos", diz num áudio que circula em grupos de WhatsApp um homem que se identifica como militar da reserva da Aeronáutica. Ele diz que, nos golpes, os militares agem por conta própria. Já em intervenções, segundo ele, "as forças são convocadas a agir pela população" - fator que conferiria legalidade aos atos.
O autor defende a realização de grandes manifestações pró-intervenção pelo Brasil. "Aí teremos o respaldo do mundo e da ONU, senão a ação cai por terra."

No grupo do Facebook "Adeptos da INTERVENÇÃO CONSTITUCIONAL DAS FFAA" (Forças Armadas), um membro que também se identifica como militar na reserva defende a convocação imediata "de uma Junta Civil e Militar Constitucional que dirija os destinos da Nação com Ordem e Progresso até as próximas eleições, sem urnas eletrônicas viciadas e fraudadas".
Segundo o autor, a iniciativa garantiria que "bandidos e corruptos presos cumpram realmente suas penas" e que "a população se sinta mais segura e protegida".
Subordinação ao presidente
Todos os juristas ouvidos pela BBC Brasil, no entanto, afirmam que a Constituição não dá respaldo a qualquer ação desse tipo e que a tomada de poder pelos militares - ainda que temporária - equivaleria a um golpe. E caso os militares exerçam o poder de forma autoritária e suspendam liberdades individuais para cumprir seus objetivos, como fizeram após o golpe de 1964, o novo regime seria uma ditadura.
Para Elival da Silva Ramos, professor de Direito Constitucional da USP e ex-procurador geral do Estado de São Paulo, a Constituição claramente subordina as Forças Armadas ao presidente da República.
No artigo 142, a Carta diz que as "Forças Armadas (...) são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem".
Segundo Ramos, é esse o trecho que legitima o emprego de militares em crises de segurança pública - caso, por exemplo, do decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que ampara a presença atual de militares no policiamento do Rio de Janeiro.
Mesmo nesses casos, porém, a iniciativa de convocar as tropas cabe ao presidente da República e deve ser aprovada pelo Congresso. E há limites à ação das tropas. "O presidente não pode decretar uma intervenção nos demais poderes, por exemplo", diz o professor.

Alguns defensores de uma "intervenção constitucional" citam a possibilidade de que o processo seja conduzido pelo Conselho de Defesa Nacional, órgão que assessora o presidente da República nos assuntos de soberania nacional e defesa do Estado democrático.
O conselho é composto pelos comandantes das Forças Armadas, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado e os ministros da Justiça, Defesa, Relações Exteriores e Planejamento. Entre as atribuições do órgão está "opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal".
Ramos afirma, porém, que o "órgão tem caráter meramente consultivo e serve unicamente ao presidente da República".
Para Sérgio Borja, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a transformação do Conselho de Defesa num órgão capaz de tomar decisões "representaria um atentado à fórmula constitucional".
Intervenção temporária
A defesa de uma intervenção que vigore até a próxima eleição ecoa o conteúdo do Ato Institucional nº 1 (AI-1), conjunto de normas impostas pelos militares após o golpe de 1964.
No documento, os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica diziam agir para "restaurar no Brasil a ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista".

Segundo o AI-1, as regras do ato vigorariam até 31 de janeiro de 1966, data em que assumiria um novo presidente, a ser eleito no ano anterior. As promessas de uma intervenção temporária, porém, não foram cumpridas, e o Brasil só voltou a ter eleições diretas para presidente 25 anos depois, em 1989.
Estado de sítio
A advogada constitucionalista Vera Chemim diz que a greve dos caminhoneiros não se enquadra nas situações em que a Constituição permite a decretação de estado de sítio e, por consequência, a suspensão de algumas garantias constitucionais.
Nos artigos 137 a 139, a Carta determina que o presidente poderá solicitar ao Congresso a imposição de estado de sítio quando houver "comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa", ou ainda quando houver "declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira".
Nesses cenários, a Constituição permite, entre outros pontos, a suspensão da liberdade de reunião, a requisição de bens e intervenções em empresas públicas.
Segundo Chemim, os distúrbios causados pela greve não chegaram a esse nível de gravidade.
Além disso, ela afirma que mesmo sob estado de sítio as Forças Armadas continuariam subordinadas à Presidência. "Na Constituição Federal não há nenhum evento que justifique a tomada de poder pelos militares."
Militares na política
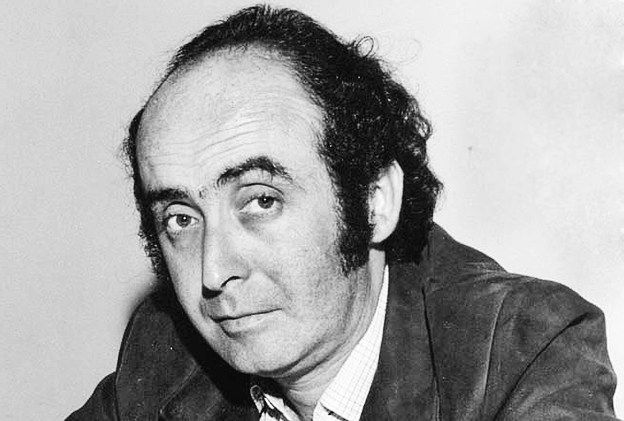
Para a advogada Daniela Teixeira, vice-presidente da OAB-DF, "não existe nenhuma possibilidade na Constituição de que se passe o comando supremo das Forças Armadas para um militar não eleito".
A Carta impede que a Presidência da República, chefia máxima das forças, fique vaga em qualquer circunstância. Mesmo que um presidente e seus sucessores imediatos morram ou sejam afastados, há ritos para que o cargo seja imediatamente preenchido - ainda que de forma temporária.
Assim, a autoridade da Presidência sobre as Forças Armadas sempre se mantém.
Mesmo quando militares concorrem a cargos eletivos, devem antes passar à reserva, pois a Constituição proíbe que eles integrem partidos políticos enquanto estiverem na ativa.
Rejeição entre comandantes
A hipótese de uma intervenção militar tem sido rejeitada pelos três comandantes das Forças Armadas desde que a crise política se acirrou no país, em 2016.
Nos últimos dias, até mesmo o general Antônio Mourão - que, até passar à reserva, em fevereiro, era visto como um dos oficiais mais intervencionistas do Exército - criticou a possibilidade de interferência das Forças Armadas em meio à greve dos caminhoneiros.
"Tem gente que quer as Forças Armadas incendiando tudo", disse Mourão. "Soluções dessa natureza a gente sabe como começam e não sabe como terminam."
O deputado federal e ex-capitão do Exército Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência, também reprovou uma eventual intervenção.
"Na minha opinião, dos meus amigos generais, se (os militares) tiverem de voltar um dia, que voltem pelo voto. Aí chega com legitimidade, não dá essa bandeira para o PT dizer 'abaixo a ditadura' ou 'foi golpe', porque aí foi golpe mesmo", afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo, na terça-feira.

Em 2016, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, chamou de "malucos" e "tresloucados" os que pediam a volta dos militares ao poder.
Em abril deste ano, porém, uma declaração de Villas Bôas no Twitter animou grupos pró-intervenção e foi interpretada como uma ameaça de interferência em outro poder.
Na véspera do julgamento de um habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Villas Bôas disse que o Exército compartilhava do "anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade" e que a Força se mantinha atenta "às suas missões constitucionais".
Poder constituinte originário
Para Sérgio Borja, da UFRGS, o conceito de intervenção militar constitucional não existe "em nenhum livro ou manual de direito, e nunca ouvi nenhum professor falar a respeito".
Ele afirma que, desde que o direito moderno surgiu, no Império Romano, civis criam regras para tentar conter o poder dos militares.
Quando perdem o controle, nem sempre isso se deve a ofensivas da caserna. "Às vezes, (os governos civis) sucumbem diante de uma rebelião popular de imensas proporções."
Segundo o professor, o povo representa, no Brasil e em outros países, o "poder constituinte originário". Em seu artigo 1º, a Constituição diz que "todo o poder emana do povo".
"Num cenário de erupção do poder constituinte originário, o caos e a desordem poderiam exigir o emprego das Forças Armadas." Segundo ele, porém, essa situação não faria com que uma intervenção militar fosse constitucional.

"O poder constituinte originário sempre quebra a legalidade - uma legalidade sucumbe frente à outra que nasce."
Legitimidade X legalidade
Para o procurador Elival da Silva Ramos, há ocasiões extremas em que os conceitos de legitimidade e legalidade entram em choque.
Ele cita os regimes de Adolf Hitler na Alemanha (1933-1945) e de Josef Stálin (1927-1953) na extinta União Soviética. Nos dois casos, segundo Ramos, os governos cometiam matanças sem violar as leis nacionais.
"Somente nessas situações justifica-se a quebra da legalidade para restabelecer o respeito a direitos fundamentais." Segundo Ramos, o Brasil não vive uma situação desse tipo.
Por outro lado, ele diz que quebrar a ordem constitucional é sempre perigoso.
"Quando se age fora da legalidade, passa-se a uma situação em que tudo é possível e não há mais parâmetros. O risco é as coisas piorarem ainda mais."

Nenhum comentário:
Postar um comentário